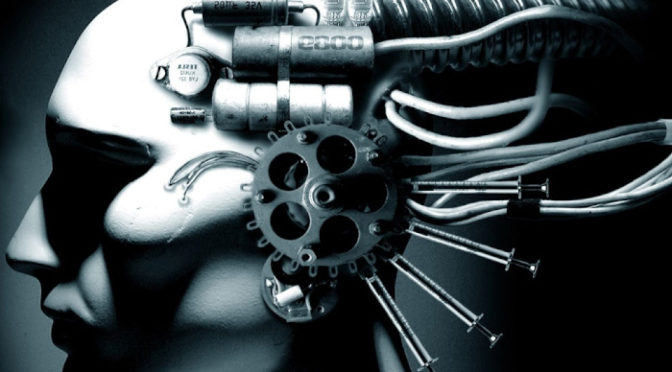Por Lidia Zuin
Com cada vez mais nossa individualidade e existência resumidas às imagens virtuais, diferentes projetos almejam o ‘upload’ da mente e a imortalidade através de avatares.
Só no Brasil já ultrapassamos o terrível marco de 100 mil mortos pela covid-19 e nos aproximamos nesta data (10 de setembro de 2020) de 130 mil. Ao longo dessa pandemia a morte se tornou um tema latente e frequente, bem como um fato banalizado em hospitais de campanha, em valas comuns e em estatísticas que pouco importam ao presidente da República – afinal, ele não é coveiro.
Idealmente só passamos a calcular a própria morte ou temer a perda de entes queridos quando nos deparamos com o envelhecimento e as complicações decorrentes desse processo. Porém, há uma ínfima parcela da população que já está pensando em estratégias para ludibriar aquilo que nos é mais inevitável: a morte. Conhecidos como transumanistas, esses indivíduos se debruçam em soluções tecnológicas para conquistar a extensão radical da vida e, em última instância, “a morte da morte”.
As estratégias variam entre terapias genéticas, como é o caso da SENS Research Foundation liderada pelo gerontólogo Aubrey De Grey (o qual acredita que, atualmente, já temos condições de estender a vida humana até mil anos); preservação criogênica como forma de aguardar por uma técnica funcional de “ressuscitamento”; gradual substituição de partes biológicas do corpo humano por peças sintéticas – de membros protéticos a implantes neurais como o recentemente atualizado protótipo da Neuralink, de Elon Musk.
https://www.youtube.com/watch?v=w2egvtgealM
Eu, robô
Em uma instigante conversa com o diretor de engenharia do Google e futurista Ray Kurzweil, a cientista e empresária americana Martine Rothblatt discute, justamente, o problema (e a esperança) de se conseguir fazer o “upload” da mente humana em uma máquina – isto é, conseguir estender a nossa existência do corpo biológico para uma mente “livre de substratos”, como prefere chamar o neurocientista Randall Koene, líder do projeto carboncopies, cujo propósito é de justamente fazer a emulação do cérebro humano.
Rothblatt possui iniciativas que abrangem desde tratamentos genéticos até robótica e inteligência artificial. Além disso, ela também é uma das fundadoras do Terasem Movement, uma “transreligião” que prega a imortalidade tecnológica e que tem como lema os preceitos de que “a vida tem propósito, a morte é opcional, Deus é tecnológico e o amor é essencial”.
Parte dos esforços de Rothblatt e de sua família em tornar realidade o que outrora era apenas fé, como reflete o historiador Yuval Noah Harari em Homo deus, está exemplificado justamente na criação de Bina48, um busto robótico dotado de uma inteligência artificial programada para aprender a emular sua esposa, Bina Rothblatt.
Apesar de ter consciência de que o busto não é sua esposa, Rothblatt em conversa com Kurzweil fala justamente sobre essa questão da gradualidade na transformação do corpo humano biológico em um amálgama cibernético. Enquanto alguns transumanistas preferem seguir a linha biológica, contando com um mínimo de intervenção biônica, Rothblatt é uma das defensoras dessa vertente robótica da extensão da vida. Junto dela, há projetos como a 2045 Initiative que planejam, justamente, criar cópias robóticas humanas capazes de receber o transplante de um cérebro humano a princípio, sendo que posteriormente ainda se espera poder fazer a emulação completa em um substrato tecnológico.
Navio de Teseu
Uma das problematizações filosóficas que surgem a partir dessas ideias engloba não apenas o fato de que, atualmente, ainda não conseguimos definir e delimitar com exatidão o que é consciência, onde ela começa e onde termina, nem onde ela reside. Se, em um primeiro momento, neurocientistas acreditavam que o “eu”, e portanto a consciência, estava circunscrita ao cérebro (assim como na lógica do teatro cartesiano), hoje há uma nova vertente que defende que a consciência e o “eu” só existe corporificado e no conjunto da obra, não apenas em um único órgão.
Assim seria, de fato, possível fazermos a gradual mudança de um ser biológico para uma entidade maquínica sem que, nesse processo, deixemos de ser quem somos? Essa é a premissa desenvolvida no paradoxo do Navio de Teseu e no livro Artificial you de Susan Schneider: não temos uma noção exata de até que ponto implantes neuronais podem amplificar nossa mente ou nos destruir como seres.
Filósofos como Thomas Metzinger defendem, por outro lado, que é impossível emular a experiência da vida humana com toda sua complexidade em ambiente virtual. Afinal, não conseguimos reproduzir as mesmas experiências e sensações que percebemos do mundo através de nossos corpos por eles serem, afinal, físicos e biológicos. Se em The matrix o personagem Morpheus diz que a realidade nada mais é do que impulsos elétricos percebidos pelo nosso corpo e traduzidos para nossa consciência, hoje cada vez mais há dúvidas se realmente é “apenas” isso.
Paraíso ciberespacial
A verdade é que diferentes estudos envolvendo realidade virtual, neuroestimulação ou mesmo o uso de substâncias lisérgicas em ambiente controlado estão visando a mesma coisa: entender melhor sobre os limites e possibilidades da consciência, continuando a ponte entre psicodelia e ciências duras já feita anteriormente por autores como Timothy Leary e Robert Anton Wilson.
Na cultura pop vemos esse tipo de desejo plasmado em séries como Black mirror, Maniac e Years and years, como se resgatassem um desejo latente nos anos 1990, quando Hans Moravec lançou o livro Brain children e jornalistas da revista Wired achavam que o ciberespaço seria como o “céu cristão”, como Margaret Wertheim descreve em The pearly gates of cyberspace.
Não chegamos a esse ponto, mas vimos esses mesmos desejos continuarem sendo expressos na ficção, como na série Caprica, prequência de Battlestar Galactica, na qual grupos religiosos fazem ataques terroristas com a intenção de “converter” as pessoas em avatares em sua simulação do paraíso. O que vemos hoje, na prática, é uma tentativa de cunho mais secular e mercadológico quando assistimos aos novos títulos de franquias como Star wars, em que a atriz Carrie Fisher, mesmo falecida, tem presença na tela sustentada por computação gráfica e uma atriz que lhe empresta o corpo físico. Com os desenvolvimentos da tecnologia dos deep fakes, também é possível imaginar que esse tipo de solução se torne uma tendência no futuro próximo.
Teatro de sombras
Afinal, combinar imagens em computação gráfica é apenas uma virtualização de outros processos já vislumbrados antes, como quando o rapper Tupac e o cantor Michael Jackson “fizeram” shows póstumos a partir de hologramas projetados sobre o corpo de performers. Mesmo que mais tecnológico, esse recurso nada mais é do que a atualização de um ritual funerário registrado na Roma antiga, quando atores usavam máscaras dos mortos e os “animavam” em performances de cortejo.
Contudo, um interessante ponto a se ressaltar em casos como esses é que estamos tratando de personalidades famosas, tão presentes em nossa realidade amalgamada ao simulacro (como já diagnosticou Baudrillard): chegamos até mesmo a questionar se, de fato, essas pessoas morreram. Isso também acontece com Elvis (que, aliás, acabou de protagonizar uma campanha da Fiat), Marilyn Monroe e tantas outras estrelas que marcaram nosso imaginário cultural.
Para o sociólogo Edgar Morin, com o advento da indústria cultural e mais especificamente da lógica hollywoodiana fomos apresentados a essa nova categoria de indivíduos tidos como celebridades que, por sua vez, conquistaram postos tão transcendentais que poderiam ser considerados os novos olimpianos.
Ao estudar a obra de Andy Warhol, o pesquisador Christopher Phillips tratou justamente das serigrafias que o americano fez de celebridades como Marilyn Monroe e como essas pessoas, na realidade, teriam abdicado de suas subjetividades para se tornarem imagens reprodutíveis, como os rótulos da sopa Campbell. Ainda que Marilyn tenha sido, de fato, um ser humano de carne, osso e sentimentos, ao se tornar celebridade acabou assumindo sua redução a uma multiplicável figura curvilínea de cabelos platinados e batom vermelho.
Hoje esse tipo de escolha é deliberadamente pautada como uma estratégia mercadológica ao se construir uma persona e reforçar uma marca, porém, em uma análise mais profunda – tanto semiótica quanto psicológica – podemos entender que a busca pela fama nada mais é do que a erupção do desejo de escrever nossa história como uma jornada do herói.
Imortalidade midiática
Essa foi a hipótese levantada pelo antropólogo cultural Ernest Becker em A negação da morte quando entende que humanos, sendo os únicos seres vivos conscientes da própria morte, buscam viver uma vida digna de uma epopeia para que assim conquistemos o que os gregos chamavam de kléos, isto é, a fama imorredoura que permanece como memória dos feitos heroicos do falecido.
Mais do que plantar uma árvore ou escrever livros, hoje vemos nas pessoas (famosas ou não) o desejo de driblar a morte não apenas se tornando um indivíduo memorável – Woody Allen, por exemplo, diz que não quer permanecer vivo através de suas obras, mas sim literalmente. Contudo, quando pensamos em celebridades e pessoas públicas, por mais que tenhamos a oportunidade de vê-las em um show ou em qualquer circunstância presencial, ainda assim elas permanecem como imagem. As redes sociais nos provam isso cada vez mais, a soberania da imagem sobre a carne e sua realidade visceral.
Por isso, pessoas como o autor Deepak Chopra já se adiantaram escaneando o próprio corpo e criando um avatar ou “clone virtual” para permanecer presente mesmo após a morte de seu corpo. Isso vale também para o caso já mencionado de Bina48, mas também para artistas que têm escaneado seus corpos para manter uma imagem a ser usada em produtos culturais ad eternum. O que outrora foi vislumbrado na ficção científica The congress, em que a atriz Robin Wright escaneia seu corpo e abdica dos direitos sobre a própria imagem, hoje vemos como um investimento comercial.
Pós-humanos demasiadamente humanos
Esses movimentos, portanto, só acabam reforçando ideais e comportamentos antigos no que diz respeito à soberania da imagem frente ao corpo que se deteriora (o que Becker entende como sendo algo próximo ao conceito de analidade de Freud) e no que tange ao nosso medo existencial que é ter consciência da nossa própria morte.
Com a morte cada vez mais reprimida, sanitizada e industrializada no Ocidente contemporâneo, menos a aceitamos como uma realidade e mais dificilmente a vivemos. Se, um dia, acreditamos que teremos um outro lugar no qual poderíamos nos encontrar com nossos entes queridos, hoje já não aceitamos essa possibilidade no devir, senão buscamos uma solução concreta (científica e tecnológica) para o agora – algo investigado por Harari e Douglas Rushkoff, por exemplo.
Mas assim como Vilém Flusser defendia em seu texto Da imortalidade que, entre os homens de Neandertal não existia separação entre o eu e o mundo, portanto a morte não representava um ponto final, mas sim uma vírgula em um ciclo mais amplo, talvez um dia possamos descobrir que a nossa existência (consciência e individualidade) não se resumem apenas ao nosso corpo biológico. Por outro lado, talvez essa mesma esperança nada mais seja do que a nossa mente nos pregando uma peça defensiva ao não nos permitir aceitar a única certeza que temos na vida: a morte.
Lidia Zuin é jornalista, pesquisadora em futurologia, professora e palestrante. Mestre em semiótica pela PUC-SP, atualmente cursa doutorado em artes visuais pela Unicamp. Assina uma coluna sobre tecnologia e cultura no TAB UOL e atua como pesquisadora freelancer para empresas como UP Lab e Envisioning. Leciona na pós graduação em design estratégico do Istituto Europeo di Design. Com dois TEDx talks ministrados, escreve contos de ficção científica publicados em coletâneas e ebooks.