Por Daniela Klebis e Francilene Procópio Garcia
A história da comunicação científica no Brasil não pode ser dissociada dos múltiplos atores e instituições que, ao longo das décadas, moldaram os contornos desse campo. Entre essas organizações está a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), fundada em 8 de julho de 1948, em meio ao esforço de construção institucional do setor no pós-guerra. Desde o início, a SBPC assumiu uma dupla missão: divulgar ciência e contribuir para a formulação da política científica nacional. A entidade se firmou como um espaço singular de construção de uma linguagem pública da ciência que vai além da sua popularização, articulando conhecimentos técnicos e argumentos políticos como fundamento de direitos e de um projeto democrático para o País.
Esse entrelaçamento entre divulgação e política científica nunca foi linear ou isento de conflitos. Porém, a SBPC emergiu como uma voz pública da comunidade científica que expressa, em diferentes momentos históricos, as disputas simbólicas e materiais em torno do papel da ciência no Brasil. Em suas primeiras décadas, equilibrou o desafio de manter em pé a pauta da consolidação de uma infraestrutura científica nacional e, ao mesmo tempo, democratizar o acesso ao conhecimento, valorizando experiências pioneiras de ensino e extensão científica, demonstrando que a comunicação científica é também um terreno de poder e de negociação.
Poucos meses após sua fundação, em janeiro de 1949, a entidade lançou a revista Ciência & Cultura, dirigida por José Reis, considerado o pioneiro da divulgação científica no País. Reis defendia que “divulgar ciência é torná-la parte da cultura” (Reis, 1953), e, com base nisso, a Ciência & Cultura foi o primeiro veículo nacional com uma linha editorial voltada simultaneamente à educação científica e à reflexão sobre o papel social da ciência, posicionando o conhecimento científico como elemento constitutivo do desenvolvimento brasileiro. Meses depois, em outubro do mesmo ano, a SBPC realizou sua primeira Reunião Anual, em Campinas, inaugurando o que se tornaria o maior e mais longevo evento científico da América Latina, reconhecido por sua diversidade de públicos e temas. Um espaço inédito de encontro entre pesquisadores, professores, jornalistas, estudantes e gestores onde se promovem há quase oito décadas debates sobre ciência, educação, cidadania e identidade nacional.
Durante a ditadura militar, especialmente nos anos 1970, a SBPC viu suas reuniões se tornarem um dos raros espaços de expressão livre. Falar de ciência, então, era também falar de democracia, de liberdade de pensamento e direitos humanos. Episódios emblemáticos, como as tentativas de cercear as reuniões da SBPC, reforçaram seu papel de resistência. Nas plenárias e debates, a racionalidade científica se combinava com uma ética da deliberação: argumentar era, também, resistir.
Com a redemocratização, a SBPC consolidou-se como mediadora entre ciência, Estado e sociedade. Contribuiu ativamente na Constituinte de 1988, quando foram incluídos os artigos 218 e 219 que obrigam o Estado a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a garantir a soberania nacional baseada no conhecimento. Também participou da criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em 1985, e das discussões que expandiram e fortaleceram o atual Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), em especial com a regionalização e expansão das fundações estaduais de amparo à pesquisa. Ao mesmo tempo, sua comunicação pública, que abrange cartas, moções, editoriais, reportagens e entrevistas em seus veículos de comunicação, se firmou como instrumento permanente de pressão e articulação pública, mobilizando sociedade e governo em defesa da ciência.
Nesse percurso, a SBPC pode ser vista como a expressão do que Maíra Baumgarten Corrêa (2003) descreve como “coletividade científica”: um espaço de encontro entre pesquisadores e as múltiplas relações sociais que influenciam a produção científica. A SBPC corporifica essa coletividade ao congregar instituições, pesquisadores, mídia, governo, empresários e sociedade como um todo em um mesmo campo de ação, onde ciência e política se constroem mutuamente, ou, como observa Sheila Jasanoff (2011), se “coproduzem”, incorporando não apenas visões sobre o que o Brasil é, mas também sobre o que se deseja que ele seja. A comunicação da ciência, nesse sentido, não apenas traduz o conhecimento, mas participa de sua criação simbólica, moldando o imaginário nacional sobre o papel da ciência e seus significados públicos, sempre em diálogo com projetos de país.
O Jornal da Ciência (JC), lançado em 1985, ampliou esse papel mediador. Ao lado da Ciência & Cultura, tornou-se uma arena permanente de debate sobre políticas científicas, com reportagens, entrevistas e análises que acompanham, em tempo real, as transformações da pesquisa e da política nacionais. Nos anos 2000 e 2010, a comunicação da SBPC se expandiu para o ambiente digital, com boletins, podcasts, vídeos e campanhas que aproximaram a instituição de públicos mais amplos, incluindo jovens e educadores, muitas vezes situados fora dos grandes centros. Essa rede comunicacional fortaleceu a presença da ciência na esfera pública e política e ajudou a enfrentar períodos de crise e desinformação.
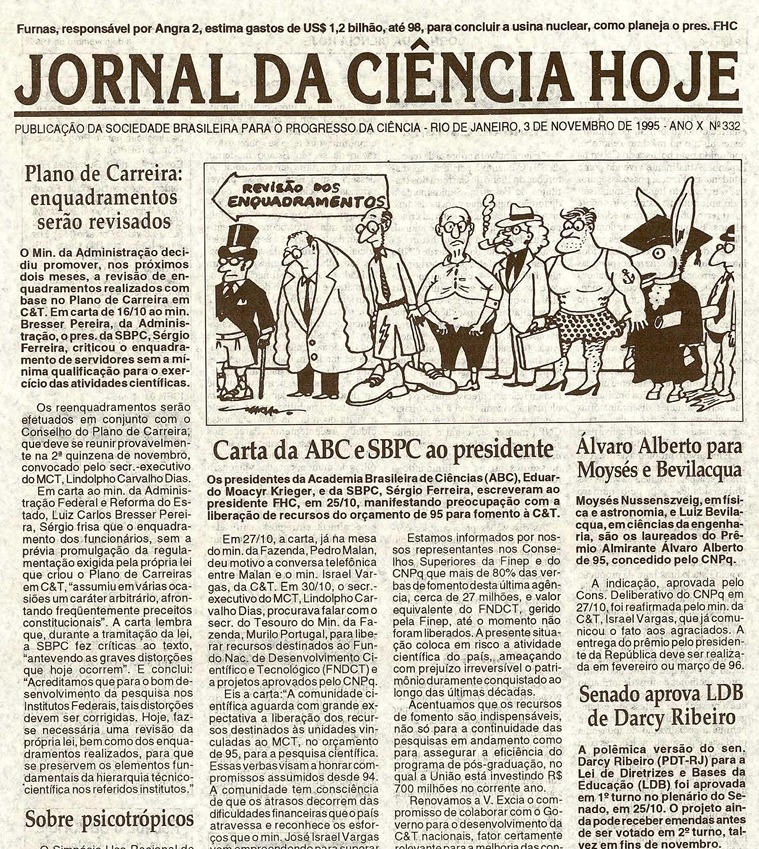
Entre 1990 e 2018, a entidade publicou em seus veículos centenas de manifestos sobre financiamento, autonomia universitária e soberania científica. Um levantamento recente (Klebis, 2024) mostra que, em mais da metade desses textos, os argumentos técnicos são acompanhados de apelos éticos e democráticos. Essa combinação expressa uma política do conhecimento, em que a comunicação científica passa a disputar o que conta como saber legítimo e quais valores orientam sua produção (Bauer, 2009). A SBPC participa dessa política simbólica, mediando entre a racionalidade científica e o imaginário cívico do país. Ao ancorar temas científicos à política nacional que dá suporte a esse desenvolvimento, a SBPC constrói uma interpretação pública sobre o papel da ciência na sociedade e sobre os direitos associados ao conhecimento como pilares de cidadania e soberania.

Episódios recentes, como a fusão do MCTI com o Ministério das Comunicações, em 2016, e os bloqueios do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), são exemplos de como essa narrativa também é uma forma de política. A retomada da plena execução do FNDCT, a partir de 2022, recoloca a ciência no centro do debate sobre desenvolvimento nacional. Fatos científicos só se tornam socialmente fortes quando circulam por instituições e discursos que lhes conferem credibilidade (Latour, 1987). É nesse trânsito que a SBPC atua, mostrando a política que sustenta laboratórios e que transforma pesquisa em bens sociais – materiais ou imateriais. Cada carta, moção ou nota pública é uma afirmação do sentido coletivo da ciência.
Durante a pandemia de covid-19, a SBPC reafirmou esse papel histórico de mediação entre ciência e sociedade. Diante da desinformação e da crise de confiança nas instituições, a entidade articulou cientistas, jornalistas, educadores e lideranças sociais em torno de uma linguagem de responsabilidade pública. Em abril de 2020, integrou o manifesto Pacto pela Vida e pelo Brasil, ao lado de organizações como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Academia Brasileira de Ciências (ABC), defendendo união, solidariedade e transparência nas decisões baseadas em evidências científicas. Pouco depois, foi uma das fundadoras da Frente pela Vida, e promoveu a “Marcha Virtual pela Ciência” e a “Marcha pela Vida”, mobilizações que alcançaram milhões de pessoas nas redes sociais, em tempos de isolamento. Além dessas ações, a SBPC criou o Observatório da Covid-19, onde reunia notas técnicas, artigos de referência e notícias produzidas pela comunidade científica para subsidiar informações checadas e qualificadas sobre o novo vírus, e promoveu uma mostra nacional de vídeos realizados por estudantes universitários de todo o país, incentivando a divulgação científica como forma de expressão e engajamento social com o tema da covid. Com campanhas digitais e presença constante na imprensa, a SBPC transformou o luto coletivo em ação política e reafirmou, em um período de grandes disputas narrativas, a centralidade da ciência e do Sistema Único de Saúde como pilares de uma sociedade democrática e solidária.
Outros projetos, como o SBPC Vai à Escola, o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher, eventos como Reuniões Anuais e Regionais, as campanhas em defesa da vacinação, contra a desinformação e por melhores políticas e recursos para o setor de CT&I, ampliaram o diálogo com professores, estudantes e o público em geral. Mais recentemente, temas como inteligência artificial, soberania digital, transição ecológica e inclusão social passaram a integrar de modo ainda mais sistemático a comunicação institucional, reforçando que divulgar ciência, nesse contexto, é promover diálogos e criar pontes entre todos os atores que participam de seu desenvolvimento: pesquisadores, educadores, comunicadores, gestores e cidadãos, cultivando valores que sustentam a vida democrática e a própria ideia de um futuro compartilhado.
Como lembrava José Reis, “a ciência precisa falar com o coração e com o raciocínio”. Mais do que um instrumento de difusão, a comunicação científica é, na experiência da SBPC, uma forma de comunicar a política pública – um modo de articular conhecimento, valores e ação coletiva. Ao reunir diferentes vozes em torno de causas comuns, a SBPC mostra que comunicar ciência é também comunicar o próprio pacto social que a sustenta.
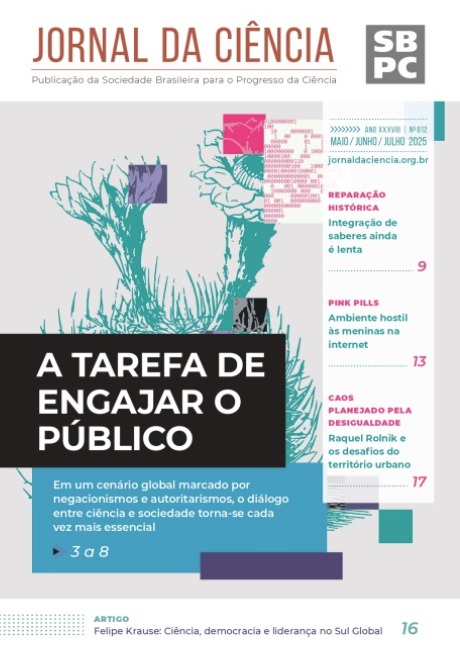 Suas manifestações, campanhas e articulações demonstram que a ciência, no Brasil, não é apenas um campo de produção de conhecimento, mas também um instrumento de mobilização, solidariedade e defesa de direitos. A SBPC se constitui, assim, em uma plataforma de diálogo e negociação, onde o conhecimento ganha densidade política. Por meio da comunicação, a SBPC afirma a ciência como valor público e exerce sua influência sobre o cenário político, econômico e cultural. Em síntese, a linguagem pública da SBPC constitui uma garantia de que o direito à ciência é também o direito à democracia — e que o Brasil pode, com ela, projetar futuros mais justos, soberanos e inclusivos.
Suas manifestações, campanhas e articulações demonstram que a ciência, no Brasil, não é apenas um campo de produção de conhecimento, mas também um instrumento de mobilização, solidariedade e defesa de direitos. A SBPC se constitui, assim, em uma plataforma de diálogo e negociação, onde o conhecimento ganha densidade política. Por meio da comunicação, a SBPC afirma a ciência como valor público e exerce sua influência sobre o cenário político, econômico e cultural. Em síntese, a linguagem pública da SBPC constitui uma garantia de que o direito à ciência é também o direito à democracia — e que o Brasil pode, com ela, projetar futuros mais justos, soberanos e inclusivos.
Daniela Klebis é doutora em política científica e tecnológica (DPCT/Unicamp) e coordenadora de comunicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
Francilene Procópio Garcia é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e ex-secretária executiva de CT&I da Paraíba.
Referências
Reis, J. (1953). “A divulgação científica e a cultura brasileira”. Revista Ciência & Cultura, 5(3), 167–172.
Corrêa, M. B. (2003). “O Brasil na era do conhecimento: políticas de ciência e tecnologia e desenvolvimento sustentado”. Tese de doutorado, UFRGS.
Bauer, M. W. (2009). “The evolution of public understanding of science – discourse and comparative evidence”. Science, Technology and Society, 14(2), 221–240.
Jasanoff, S. (2011). Designs on Nature: science and democracy in Europe and the United States. Princeton University Press.
Klebis, D. O. (2024). “Da bancada aos manifestos: a SBPC e a política científica e tecnológica do Brasil pós-década de 1990”. Tese de doutorado, Unicamp. Disponível em: 20.500.12733/17785.
Latour, B. (1987). Science in action. Cambridge: Harvard University Press.

