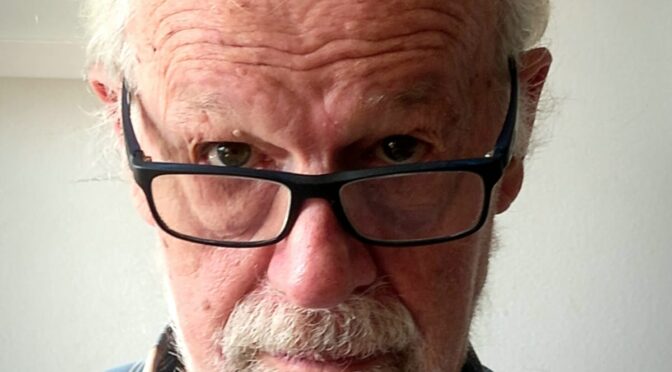A filmografia de ficção predomina no debate público sobre a carreira e o cinema de Ugo Giorgetti. As entrevistas que o cineasta concedeu quase sempre versam sobre aspectos de criação e produção de seus longas-metragens premiados ou bem-sucedidos em relação ao público. Essa conversa recupera o Ugo Giorgetti documentarista, apresenta o memorialista e põe em evidência o literato. A partir de depoimentos sobre o documentário Santana em Santana, a série de entrevistas O cinema por quem o faz e a minissérie para televisão O cinema sonhado, não só o documentário como, pincipalmente, a não ficção de Giorgetti é revelada através de sua própria voz.
Por Liniane Haag Brum
O documentário Santana em Santana (2007) foi realizado a partir de um edital da Secretaria Municipal de Cultura. O projeto “História dos bairros de São Paulo” visava ao mapeamento audiovisual da capital através de pequenas peças audiovisuais sobre os bairros que a compõem. Santana em Santana, no entanto, não entrou na retrospectiva dedicada à sua filmografia documental no festival “É Tudo Verdade” de 2022, o maior certame dedicado à produção documentária na América Latina. Ele é considerado por você uma peça menor? O que o motivou a fazer esse filme?
Bom, eu fiz esse filme para saber se Santana realmente correspondia à concepção que eu tinha dela. Por quê? Vou sempre à casa do meu irmão e tinha a impressão de que não tinha sobrado pedra sobre pedra do meu bairro. Que era uma coisa sórdida, vulgar, ridícula, todas as construções iguais, um barulhão, que não havia sobrado nada do cinema, nada de nada. Sai do bairro em 1967, aos 26 anos, quando casei.
Ficou essa ideia cimentada na minha cabeça. E, para a minha surpresa, quando fiz o documentário, vi que restava muita coisa – alguns lugares intactos. Um exemplo é a entrada na Voluntários da Pátria, que está exatamente como era – e bonita – com gente morando, não é um cortiço. Tem alguns planos nesse filme que eu gosto muito. Tem um plano que eu acho que é muito bom, que é um plano de uma tempestade. Tem uma chuva terrível que se abate no alto de Santana – e tinha uma vaga ideia de que lá era mais chuvoso. Essa cena é uma das melhores que eu já filmei. Eu falei para a equipe: se prepara que vai chover, vai cair uma tempestade, eu conheço esse bairro.
De repente, o que eu acho curioso, é que no meio da tempestade o bairro se tornou o bairro. Tudo ficou um pouco impreciso, como se o tempo tivesse passado, deixou como que um quadro impressionista. Em meio à névoa daquela tempestade eu reconheci o bairro: ah, essa é Santana.
Tem uma parte que mostra a sua formação, que é quando aparece a biblioteca. É muito interessante aquele momento em que você narra ter certeza que encontrou ali livros que retirava.
Lá eu encontrei alguns livros que eu tenho certeza que eu retirei. Estão lá até hoje. Tem um Dostoiévski que eu tenho certeza que eu peguei. Foi a biblioteca de Santana que me abriu o caminho para a literatura.
Meu pai tinha uma biblioteca muito boa, mas quando você é adolescente a primeira coisa que quer fazer é ser independente do pai. Então li muita coisa dessa biblioteca. Algumas coisas depois eu abandonei, mas hoje estou revalorizando esses autores, como Olavo Bilac, por exemplo. Na época da biblioteca de Santana o achava um grande poeta. Depois, quando comecei a andar com a turma do Centro, reavaliamos tudo, inclusive ele. Hoje, estou relendo e o considero um grande poeta.
E as vilas? Você fala das vilas como locais de resistência em favor de um tipo de vida que se perdeu.
Exatamente. O que eu vi lá é uma resistência inesperada para mim. Ninguém brande bandeira, mas existe essa resistência quase inexplicável.
Sobre Cinema por quem o faz (2017), a série realizada pela Spcine, a empresa de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo, e dirigida por você: de que necessidade artística, digamos assim, ela nasceu? São entrevistas que afirmam o cinema como profissão pelo viés da memória e da história oral, além disso elas compõem um painel quase pedagógico das funções cinematográficas.
A principal razão de ter feito a série é que, além de afeição, tenho uma grande admiração por equipes de cinema. Eu adoro ver a equipe trabalhar, fico observando nos intervalos, ouvindo a equipe. Uma pessoa que vem de fora olha aquilo e pensa que é um bando de loucos correndo de um lado para o outro. Mas não é. Cada um tem uma formação, está trabalhando com uma coisa muito específica. Todo mundo tem lugar naquele caos. O caos existe mesmo, mas é muito ordenado. As equipes são fantásticas. Aquele corre-corre, aquela coisa: vamos rodar, vamos rodar! Parece uma batalha. Isso aí sempre me chamou, desde o primeiro dia que vi uma equipe trabalhando, pensei: isso é bonito para caramba.
Em Cinema por quem o faz você entrevista o eletricista, o montador, o técnico de laboratório, o técnico de som, o produtor, entre outros. Há o episódio com João Sagatio, eletricista de O pagador de promessas (1962), ganhador do prêmio máximo do Festival de Cinema de Cannes e, à época da entrevista, o único remanescente da equipe dirigida por Anselmo Duarte. Ele recupera a história de como foi filmada a célebre sequência da escadaria, certo?
São pessoas que nunca foram ouvidas. Quando morreu a montadora Vânia Debs, a única pessoa que tinha registrado algo sobre sua carreira fui eu – e nunca trabalhei com ela em meus filmes. A imprensa publicou sobre ela a partir da entrevista de Cinema por quem o faz, mas não me deram crédito nenhum – exceto a Maria do Rosário Caetano, que é uma grande pessoa. Ninguém tinha falado com ela, apesar de ser uma montadora de grande renome.
A minissérie O cinema sonhado (2018) é apresentada, de acordo com a sinopse no site da Sesc TV, como “uma história pessoal do cinema paulista”. Por que você acredita que seja de interesse público a história do cinema paulista desse ponto de vista?
No meu cinema tento fazer uma coisa que deixe a impressão do que era o mundo que eu vivi. Não estou fazendo poesia, nem filmes de escola ou filme cabeça. Isso não é comigo. Se eu conseguir que amanhã alguém diga “preciso ver como eram os jogadores de futebol daquela época” e assistir Boleiros, verá que naquele filme tem verdade.
Você guarda os roteiros dos seus documentários?
Nunca fiz roteiro de documentário, e um dos encantos é esse, pois você decide na montagem o que vai ser. Mas sempre sei o que vou fazer. Por exemplo, em Campos Elíseos (1973) eu sabia que seria um filme para mostrar esse bairro fundado por aristocratas e que, 20 anos depois, virou boca do lixo. Então qual a mensagem a passar? A provisoriedade dos sonhos humanos. No Martinelli (Rua São Bento, 405, de 1976) a mesma coisa: ele seria fechado. Eu sabia que tinha que encontrar os moradores do Martinelli, entender quem eles eram.