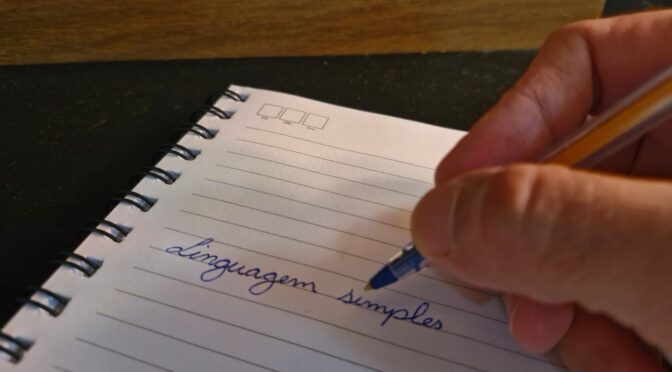Descomplicar a comunicação é fundamental para que todos entendam, participem e exerçam seus direitos
Lívia Mendes e Daniel Rangel
Quantas vezes é difícil entender documentos públicos, termos jurídicos ou uma comunicação do governo? Esse estranhamento, mais do que uma simples dificuldade de leitura, é reflexo de uma estrutura histórica que faz da linguagem uma ferramenta de poder.
A desigualdade educacional e o acesso ao conhecimento da norma padrão linguística, utilizada pelo Estado, é uma realidade em muitos países. No Brasil, a linguagem dita difícil representa um símbolo de prestígio e, ainda hoje, a maneira como o Estado se comunica continua determinando quem participa e quem fica de fora do debate público.
Para Luiza Bedê, doutora em linguística e língua portuguesa pela Unesp de Araraquara, “o domínio da norma padrão utilizado nessas instâncias — frequentemente apresentada como ‘correta’ e ‘neutra’ — torna-se um capital simbólico que define quem é ouvido, compreendido e reconhecido como legítimo interlocutor”. A pesquisadora, que atualmente é pós-doutoranda em filologia e língua portuguesa na USP, lembra que essa hierarquização linguística tem raízes coloniais e que associar prestígio ao padrão europeu de fala e escrita é um traço persistente da cultura brasileira.
“A norma padrão, mais do que um conjunto de regras gramaticais, opera como um instrumento de preservação das hierarquias sociais e políticas. Questioná-la não significa negar sua utilidade em determinados contextos formais, mas compreender que sua hegemonia reflete e reproduz desigualdades históricas”, afirma Bedê.
Essa percepção ajuda a compreender por que a defesa do uso de uma linguagem simples — movimento que vem ganhando força no serviço público brasileiro nos últimos anos — ultrapassa o campo da comunicação institucional e se torna um debate político.
Nos anos 1940, o primeiro-ministro do Reino Unido emitiu um memorando que solicitava que os comunicados de Estado fossem escritos de maneira curta e direta, e desde então começaram a surgir ideias sobre o uso de palavras simples nos meios públicos. Em 13 de outubro de 2010, Barack Obama, então presidente dos EUA, sancionou a Lei de Redação Simples (Plain Writing Act), que obriga todos os documentos federais a serem escritos em uma linguagem mais acessível, em especial aqueles que tratem de direitos, benefícios e impostos. Por esse motivo, o dia foi escolhido como o Dia Internacional da Linguagem Simples.
O movimento está presente em diversos países e em diferentes idiomas. Cada país utiliza um termo diferente para fazer referência ao uso de uma forma simples e objetiva para se comunicar. Nos Estados Unidos “plain language”; na África do Sul, Chile e Argentina “linguagem clara”; no México “linguagem cidadã”; e em Portugal “escrita simples ou linguagem clara”. Diferentes nomenclaturas para um mesmo projeto que busca facilitar a forma como a população tem acesso às informações, principalmente as do Estado e dos serviços públicos.
No Brasil, o Projeto de Lei nº 6.256/2019 instituiu a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública. Diferentes instituições têm feito o esforço de colocar a lei em prática. Na Unicamp, desde 2021, a Diretoria Geral da Administração (DGA) vem estabelecendo um projeto estratégico para incorporar a linguagem simples na comunicação e nos atos administrativos da universidade. Em 2024, quatro guias foram publicados, oferecendo à comunidade acadêmica instruções para a padronização da linguagem nos documentos oficiais. Os guias estão disponíveis no formato PDF interativo e página da web, além de versões acessíveis para pessoas com deficiência.
A pesquisa de mestrado da Bárbara de Freitas, defendida na USP e intitulada “Linguagem ‘simples’ e políticas públicas: uma análise crítica de projetos de acessibilidade linguística”, analisou o Programa de linguagem simples da Prefeitura de São Paulo, com foco na produção da versão acessível do caderno de orçamento do município. O estudo mostrou que os desafios da comunicação pública vão além da clareza. Na realidade, a linguagem técnica e burocrática precisa ser convertida em formas mais próximas do cotidiano dos cidadãos. Ao acompanhar oficinas e entrevistas com servidores, Bárbara observou que o projeto despertou debate importante dentro da administração municipal. O reconhecimento do jargão técnico como barreira à participação social levou à reflexão sobre o que realmente significa tornar a comunicação simples. A pesquisa ainda apontou a necessidade de repensar a abordagem normativa da educação linguística no Brasil, sugerindo caminhos para uma linguagem pública mais inclusiva e democrática.
“A substituição do jargão técnico por uma linguagem mais clara nos textos oficiais constitui, sobretudo, um gesto político. Quando o Estado escolhe comunicar-se de forma compreensível, ele reconhece que a linguagem burocrática não é neutra, mas historicamente associada à exclusão de grande parte da população dos espaços de decisão”, comenta Bedê.
Conforme explicam os autores do artigo “Diretrizes para o uso de linguagem simples: pesquisa e desenvolvimento no Brasil e em Portugal”, a clareza da linguagem simples não exclui a precisão da informação. “A linguagem simples não é uma linguagem informal, infantilizada, empobrecida ou que subestima a capacidade das pessoas. Pelo contrário, é possível escrever de forma simples e acessível, conforme um conjunto de técnicas, e seguir as normas da língua portuguesa”, afirmam os autores.
Por muito tempo, a linguagem técnica dos documentos de Estado e instituições funcionaram como marca de autoridade e instrumento de distinção social, o incentivo ao uso da linguagem simples procura corrigir essa relação hierárquica, na busca por uma equidade de direitos.
Educação e poder de fala
A transformação, contudo, não depende apenas de novos manuais de redação administrativa. Passa também por uma educação linguística crítica, que ensine os estudantes a reconhecer o poder contido nas palavras. “Ensinar os estudantes a compreender e produzir diferentes registros da língua é também ensiná-los a ocupar a palavra pública”, diz Bedê. “Quando a educação linguística valoriza a diversidade e problematiza o poder inscrito nas formas de dizer, ela contribui para formar cidadãos capazes de participar criticamente da vida social — e de transformar, pela linguagem, as próprias estruturas de exclusão”, conclui a pesquisadora.
No Brasil, a exclusão linguística foi explícita em 1881 pela Lei Saraiva, um decreto que exigia que o eleitor deveria saber ler e escrever. Tanto tempo depois, os efeitos dessa herança histórica ainda estão presentes nos indicadores do analfabetismo funcional. As últimas pesquisas identificaram que 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais e, segundo IBGE, 9,1 milhões de brasileiros ainda não sabem ler ou escrever um bilhete — números que explicam por que a forma de escrever do poder público se torna, na prática, uma barreira de acesso à cidadania.
Garantir que todos compreendam os documentos e comunicados do Estado e das instituições públicas é mais do que clareza linguística, é ampliar o acesso aos direitos e à participação cidadã. A linguagem simples serve como uma ferramenta de inclusão, tornando a comunicação pública um espaço para todos e não apenas para aqueles que dominam a norma padrão.
Daniel Rangel é formado e jornalismo e ciências, doutor em biotecnologia e monitoramento ambiental (UFSCar). Especialista em jornalismo científico no Labjor/Unicamp.
Lívia Mendes Pereira é doutora em linguística (Unicamp) e especialista em jornalismo científico pelo Labjor/Unicamp