|
Tenotã
– mõ. Alertas sobre os conflitos sociais e prejuízos ambientais dos projetos
de hidrelétricas no rio Xingu, Pará, Brasil
A. Oswaldo Sevá Filho
O que quer dizer Tenotã-mõ?
E o que isso tem a ver com o problema das hidrelétricas?
Retrospectiva necessária: Em fevereiro de
1989, o maranhense José Antonio Muniz Lopes, diretor da Eletronorte,
compôs a mesa dos trabalhos no Encontro dos Povos Indígenas, realizado
no ginásio coberto de Altamira, cidade paraense que fica perto do cruzamento
da rodovia Transamazônica com o rio Xingu. Índias e índios
de várias etnias vieram se manifestar bem em frente aos palestrantes,
alguns falando em sua língua ao microfone e sendo traduzidos. A jovem
mãe Tu Ira chegou gritando em língua kaiapó, gesticulando
forte com o seu terçado (tipo de facão com lâmina bem larga,
muito usado na mata e na roça). Colou na mesa, mirou o engenheiro Muniz,
seu rosto redondo de maçãs salientes, traços de algum antepassado
indígena, e com a lâmina do terçado, pressionou uma e outra
bochecha do homem, para espanto geral. Um gesto inaugurador... Situação
que merece uma palavra-chave, usada na língua dos índios Araweté
da Terra Ipixuna, no médio Xingu, recolhida pelo antropólogo Eduardo
Viveiros de Castro :•
“Tenotã mõ significa “o que
segue à frente, o que começa”.
Essa palavra designa o termo inicial de uma série: o primogênito
de um grupo de irmãos, o pai em relação ao filho, o homem
que encabeça uma fila indiana na mata, a família que primeiro
sai da aldeia para uma excursão na estação chuvosa. O líder
araweté é assim o que começa, não o que comanda;
é o que segue na frente, não o que fica no meio.
Toda e qualquer empresa coletiva supõe um Tenotã mõ.
Nada começa se não houver alguém em particular que comece.
Mas entre o começar do Tenotã mõ, já em si algo
relutante, e o prosseguir dos demais, sempre é posto um intervalo, vago
mas essencial: a ação inauguradora é respondida como se
fosse um pólo de contágio, não uma autorização”(pág.67)
Tenotã-mõ
é também o título provável do livro a ser publicado
em 2005, sob a coordenação deste autor e do jornalista americano-brasileiro
Glenn Switkes, responsável no Brasil pela organização International
Rivers Network (IRN). Esta “ONG” com sede em Berkeley, no estado
da Califórnia, EUA, atua há quase vinte anos ajudando as lutas
e as reivindicações das populações atingidas e das
ameaçadas pelas conseqüências das obras de hidrelétricas
e suas represas em vários países; publica dossiês e estudos
sobre as obras de barragens, os projetos de canais, represas e de transposições
de vazões entre bacias, e sobre as relações entre tais
obras e os consumidores eletro intensivos de energia, e as diretrizes dos bancos
multilaterais e das corporações multinacionais.
Fotos: Oswaldo Sevá |
 |
| Vista panorâmica de Altamira |
Seguem-se os assuntos dos capítulos
e notas técnicas do livro :
O prefácio foi especialmente escrito por
nosso homenageado, o bispo católico dom Erwin Krautler, há trinta
anos responsável pela Prelazia de Altamira. O Encontro dos Povos Indígenas
só aconteceu em 1989 porque foi cedida a chácara Betânia,
propriedade da Prelazia para hospedar durante vários dias, as centenas
de famílias indígenas, a maioria vinda de longe. O bispo havia
também conseguido uma parte dos recursos para publicar – antes
do Encontro – o primeiro livro sobre o problema dos índios com
os projetos de hidrelétricas . Em sua mensagem de abertura, o bispo reconta
a história desde trinta e tantos anos antes, em seu primeiro encontro
com a Amazônia, o rio Xingu, Altamira, a rodovia Transamazônica,
o Projeto de Integração Nacional da época dos generais
ditadores e com o destino inseguro dos nativos:
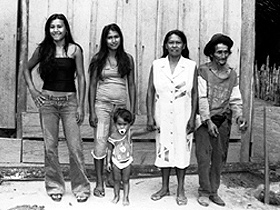
|
| Família Xipaia: Dna Miriam, Sr. Miguelzinho,
filhas e neta em Volta Grande do Xingu |
“A Rodovia Transamazônica foi inaugurada
em setembro de 1972. Já em 1975, a Eletronorte contratou a firma CNEC
(Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores) para pesquisar os locais
de futuras hidrelétricas, e em 1979 o CNEC terminou os estudos, prevendo
a construção de cinco usinas no Xingu e uma no rio Iriri, escolhendo
inclusive os nomes para as mesmas, todos eles indígenas: Kararaô,
Babaquara, Ipixuna, Kokraimoro, Jarina e Iriri. Por que nomes indígenas,
já que a existência dos povos indígenas deve ser ignorada?
Os Juruna, Xipaia-Curuaia, Kayapó, Arara, Assurini, Araweté e
Parakanã não contam. Sem dúvida se achará uma “solução“
para eles, mesmo que esta se transforme em “solução final“,
a famigerada “Endlösung“ que o nazismo encontrou para os judeus.
Os nomes indígenas para as hidrelétricas projetadas seriam assim
um “in memoriam“ para estes povos que, junto com as famílias
de seringueiros, pescadores e ribeirinhos, teriam que ceder suas terras ancestrais
para o progresso e desenvolvimento da região”.
| Clique na imagem para ampliar
|
|
| A Bacia fluvial do Xingu com a localização
das Terras Indigenas, áreas desmatadas , estradas de penetração e as represas
das usinas hidrelétricas projetada |
Lembra-se o prefaciador do livro como o Encontro
dos Povos Indígenas em Altamira e toda a repercussão obtida pareciam
ter sepultado os projetos de barrar o rio Xingu. Mas...
“A alegria durou pouco. No fim da década de 1990 o projeto
ressurgiu, se bem que sob outro nome e com roupagem nova. A Eletronorte e demais
órgãos governamentais aprenderam dos “erros“ da década
anterior e trocaram o modo de agir: um grupo de especialistas (acadêmicos)
fora contratado para analisar as forças políticas na região.
Foram feitas pesquisas sobre os nossos movimentos sociais, as ONGs, os sindicatos,
os povos indígenas, tudo no intuito de mapear possíveis focos
de resistência ao projeto agora denominado de UHE Belomonte. O nome “Kararaô”,
o grito de guerra, foi substituído pelo bucólico “Belomonte”
para que o povo do Xingu não lembrasse mais o facão da Tuíra
e os rostos pintados de urucum dos Kayapó contrários à
hidrelétrica”.
A estratégia mudou por completo. Nossas
lideranças foram continuamente convidadas para reuniões com grupos
de técnicos das empresas do governo que, é óbvio, usaram
de todos os meios para mostrar o lado positivo do empreendimento. Outro alvo
foram os jovens. Patrocinando festas e promovendo excursões à
região da UHE Tucuruí procurava-se conquistá-los para idéia
de que a hidrelétrica será um bem enorme para a região.
Com volumosos presentes o governo aliciou descaradamente as comunidades indígenas.
De antemão evitavam-se reuniões com grandes grupos para impedir
que a sociedade se organizasse e discutisse abertamente os prós e contras
do projeto. Políticos estaduais e municipais de pouca cultura e muita
fanfarrice encheram a boca proclamando a UHE Belomonte como a salvação
do oeste do Pará e pregando que o Brasil necessita deste impulso energético
para evitar o colapso de sua economia”.
O cenário é o vale do Rio Xingu: muitas
terras de sua bacia fluvial vão sendo ocupadas de modo conflitivo, e
a isto se somariam as conseqüências das seis grandes obras projetadas
pela Eletronorte. Todas atingiriam terras indígenas, desde o extremo
norte de MT (Parque Indígena do Xingu e Terra Capoto Jarina) até
na Volta Grande do Xingu (terra paquiçamba e vários grupos desaldeados).
Seja por causa do alagamento permanente, com represas que teriam dezenas de
metros de altura, seja por causa da proximidade ou do cruzamento com a abertura
de estradas de serviço e com a passagem das faixas de linhas de transmissão
previstas – o fato é que pelos menos 18 mil km2 (1,8 milhão
de hectares) de terras ribeirinhas seriam capturadas pelas obras. Nesse capitulo
inicial, os sujeitos são os “Povos indígenas, beiradeiros,
cidades no vale do Xingu, e a sua batalha contra os projetos de barrar o seu
rio”.(Oswaldo Sevá). Em seguida, dona Antonia Melo, da Fundação
Viver Produzir Preservar e do MDTX escreveu sobre “O assédio da
Eletronorte sobre o povo e as entidades na região de Altamira”,
e o Sr. Tarcisio Feitosa da Silva, atualmente coordenando a Comissão
Pastoral da Terra, registrou os conflitos e contrapôs as distintas visões
e alternativas que têm os grupos sociais locais para “A Terra do
Meio e os projetos de hidrelétricas no Xingu”.
|
Clique na imagem para ampliar |
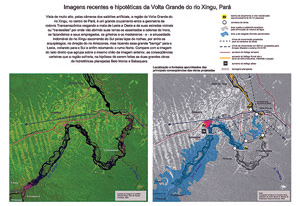 |
A primeira foto mostra o cenário da Volta
Grande do Xingu e a segunda, como ficaria caso a hidrelétrica de Belo
Monte fosse construída |
| > |
Dois capítulos abordam os aspectos administrativos, jurídicos
e filosóficos das tentativas de implantação dos projetos
e destacam a interrupção judicial do licenciamento ambiental do
projeto Belo Monte, entre os anos de 2001 e 2002:
- “Projetos de Hidrelétricas no Xingu, marcos jurídicos
e questões graves” , escrito pelo advogado Raul Silva Telles
do Valle, do Instituto Socioambiental em Brasília, DF; e
- “Xingu, Barragens e Nações Indígenas –
a propósito do licenciamento e dos direitos inalienáveis”,
elaborado pelo Procurador Federal em Belém, Felício Pontes Jr
e pela professora Jane Felipe Beltrão, então coordenadora da pós-graduação
em antropologia, da Universidade Federal do Pará. Analisaram fatos e
documentos de um período histórico particularmente tenso no Pará
e na região: no segundo semestre de 2000, a Eletronorte firmou convênio
de quase 4 milhões de reais com a Fadesp, fundação ligada
à UFPA, através da qual foram contratados pesquisadores para a
elaboração de partes do Estudo de Impacto Ambiental. As condições
desse convênio foram objeto de um relato surpreendente das condições
em que trabalharam os pesquisadores contratados .
Tais condições de elaboração do EIA, mais a tentativa
da Eletronorte em obter a licença ambiental apenas no âmbito paraense,
da Secretaria Estadual de Tecnologia e Meio Ambiente, despertaram dúvidas
no Ministério Público e motivaram a abertura de uma ação
civil pública. A decisão judicial, uma liminar embargando o EIA,
suspendendo o processo de licenciamento, foi tomada pelo juiz Rubens Rollo de
Oliveira, da Justiça Federal em Belém, em maio de 2001.
No mês de agosto, um evento traumático para o movimento popular
e para as entidades regionais que reagrupam assentados, pequenos fazendeiros,
comunidades rurais: o assassinato de seu líder Ademir Federicci, o Dema.
Mesmo que tenha sido por encomenda de madeireiros por ele denunciados –
e não por encomenda do “lobby” barrageiro –, o fato
conhecido é que o Dema criticava os projetos de barragens e incluía
esse ponto na sua luta política, em seus discursos.
Em novembro de 2001, foi confirmada a decisão pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, em Brasília, e quase um ano depois,
em 2002, a mesma liminar foi mantida na ultima instância pelo ministro
Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal. Era a segunda derrota
do projeto Belo Monte, num intervalo de quatorze anos desde o primeiro anúncio.
Na seqüência do livro, outros estudiosos procuram desvendar as possíveis
destinações futuras de tal eletricidade – que podem também
exigir altos investimentos em transmissão dessa energia. Para resumir:
ao custo de hoje, se fossem instalar mais de 22 mil megawatts em seis grandes
obras no rio Xingu, trecho paraense, e em seu afluente Iriri, isto custaria
pelo menos 22 bilhões de dólares, algo como 60 bilhões
de reais a serem gastos lá e no mundo todo durante uns dez anos. Uma
única eletrovia (linhas de transmissão em voltagem extra-alta)
com capacidade de transmitir uma décima parte dessa eletricidade até,
digamos, na altura de Goiânia, custaria mais de um bilhão de dólares.
No capítulo escrito pelo jornalista paraense
Lúcio Flavio Pinto: “Grandezas e misérias da energia
e da mineração no Pará”, vai-se demarcando cada
uma das grandes “jogadas regionais” – os investimentos e esquemas
de influência armados em Carajás, Alumar, Tucurui, Albrás
e Alunorte, no Jari, na Mineração Rio do Norte – com a obscuridade
das contas e dos contratos, com os prejuízos já sofridos por nós
todos e com a destruição que vai sendo deixada no rastro... Além
de Lúcio Flávio Pinto, outros autores do livro, paraenses e “de
fora” estão escaldados pelo acúmulo de problemas e pelas
pendências crescentes em Tucuruí – a primeira mega-usina
na Amazônia, feita a toque de caixa sob a pressão dos investidores
japoneses e dos bancos europeus, entre 1977 e 1984.
Pode-se afirmar que o objetivo de Tucuruí
e o de Belo Monte são o mesmo: a inserção dos “recursos”
brasileiros em uma economia globalizada dos materiais energético-intensivos,
principalmente o ferro e aço, o silício, o alumínio, o
cobre, o níquel e as várias ligas entre eles, cuja fabricação
a partir dos minérios exige muito combustível e muita eletricidade.
Mesmo assim, a dúvida científica nos obriga também a avaliar
esse investimento anunciado, em relação ao funcionamento do atual
e previsto sistema de eletricidade na região e no país. A pergunta
pode ser: até onde faria sentido abastecer o Centro Oeste e o Sudeste
com eletricidade transmitida de 3 mil km de distância? Para que se possa
responder, temos que saber, comparativamente a outras rotas de suprimento, e
a outros modos de planejar, quais seriam as demandas futuras, as soluções
possíveis, as vantagens, as alternativas... Foi com esta disposição
que o engenheiro e advogado André Saraiva de Paula, pesquisador do Centro
de Pesquisas da Eletrobras, RJ, escreveu seu capítulo “Uma
análise do projeto Belo Monte e de sua rede de transmissão associada,
frente às políticas energéticas do Brasil”.
Movidos pela mesma linha de investigação, organizamos, junto com
esse engenheiro eletricista e seu colega Rubens Milagre Araújo, (que
percorreu as subestações elétricas de Imperatriz, Marabá,
Tucuruí e o centro de operações da Eletronorte em Belém),
uma nota técnica sistematizando de modo pormenorizado os dados dos anos
2002 e 2003 sobre a “Eletricidade gerada em Tucuruí, para onde?
para quê?”
Na seqüência, com o auxílio de
dois pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp organizei
uma nota técnica com os “Dados de vazão do rio Xingu durante
o período 1931-1999 e as estimativas da potência, sob a hipótese
do aproveitamento hidrelétrico integral inventariado”. Para exemplificar
a situação: se naquele período histórico existisse
somente a usina Belo Monte ao longo do rio Xingu, a potência mínima
assegurada para injetar na rede regional teria sido de 1.356 Megawatts. A capacidade
instalada seria de 11.182 MW !!

|
| Cachoeira Jericoá, em Volta Grande do Xingu
Altamira |
Mas, o Xingu é rio que seca rápido e que pode permanecer muito
tempo bem baixo, quatro meses, digamos. Os valores de vazão d’água
medidos lá na cidade de Altamira, Pará, começam na faixa
de 450 a 500 mil litros por segundo, que são as médias mensais
dos piores anos, em setembro e outubro; em geral as médias mensais do
“verão”, na Amazônia vai de julho/agosto a outubro/novembro,
ficam abaixo de 1 milhão de litros por segundo. Compare-se isto à
capacidade de engolimento de uma das 20 turbinas previstas: 700 mil litros por
segundo, com potência de 550 megawatts. Em nossa ficção
histórica, registram-se alguns meses, entre 1991 e 1996, em que nenhuma
turbina operou com carga plena, e também alguns meses em que apenas uma
ou duas das dez máquinas turbinaram. Nos meses das chuvas mais intensas,
de fevereiro a abril, o rio pode ultrapassar 25 milhões de litros por
segundo; e houve alguns picos de cheia com mais de 30 milhões de l/s.
Compare-se com a máxima vazão que poderia ser engolida pelas turbinas:
14 milhões de litros/ segundo. Assim, houve meses em que um trecho de
mais de 100 km do rio Xingu, abaixo da barragem até a devolução
da água turbinada em Belo Monte, ficou com menos da metade de sua vazão
natural...E, na hipótese a mais radical de todas – a de que o Xingu
já estivesse desde 1931 barrado em cinco pontos (Belo Monte, Babaquara,
Ipixuna, Kokraimoro, Jarina) e se o rio Iriri estivesse barrado na Cachoeira
Seca, o conjunto de represas teria regularizado ainda mais o fluxo do rio e
assegurado uma potência de 12.800 MW, para uma capacidade nominal de 22.400
MW.
Decisões de tal porte têm razões
mais profundas, e os discursos estão recheados de ideologias a respeito
da ciência e da tecnologia, do domínio do homem sobre a natureza,
e de argumentos escondidos, pressupostos sobre o progresso, o aproveitamento
dos nossos recursos, e principalmente sobre o inexorável crescimento
da demanda de eletricidade...etc, etc,... que foram tratados no capítulo:
“Especialistas e militantes: um estudo a respeito da gênese
do pensamento energético no atual governo”, escrito pela engenheira
e também antropóloga Diana Antonaz, da UFPA, Belém, que
entrevistou longamente alguns dos personagens representativos da intelectualidade
dos setores elétrico e petrolífero no início do governo
Lula-Alencar.
A avaliação prévia dos prejuízos que a natureza
e o rio Xingu sofreriam, foi feita nos capítulos preparados especialmente
por Robert Goodland, ex-consultor do Banco Mundial e um dos primeiros “avaliadores
de impactos de hidrelétricas” que por aqui trabalharam, com o seu
“Brazil’s hostoric evolution of environmental and social impact
assessment: suggestions for the Belo Monte hydroproject”, e pelo ecólogo
Phillip Fearnside, do INPA, Manaus. No seu capítulo: “Hidrelétricas
planejadas no rio Xingu como fontes de gases do efeito estufa: Belo Monte (Kararaô)
e Babaquara (Altamira)”, Fearnside demonstra, ao contrário
do que pretende a ciência dominante e do que repetem com insistência
os barrageiros, que a hidreletricidade é sim poluente, as represas emitem
gases carbônicos e hidrocarbonetos, que agravam o efeito estufa com a
mesma ordem de grandeza que as usinas hidrelétricas queimando combustíveis.
As dificuldades são crescentes para o povo
da região e especialmente os ribeirinhos e os indígenas: eles
continuam ameaçados de serem desalojados, de ter o seu rio modificado,
vai se tentando confundi-los com manobras verbais, jargões técnicos,
campanhas de propaganda. Neste contexto, outros estudiosos foram convocados
para analisar a situação; o capítulo “Política
e Sociedade na construção de efeitos das grandes barragens: o
caso Tucuruí” é assinado pela professora Sonia Barbosa
Magalhães, ex-pesquisadora do Museu Emilio Goeldi e colaboradora do Departamento
de Antropologia da UFPA. Esse histórico de Tucuruí, dos seus aspectos
social e ambiental, dá uma boa idéia do que significaria um novo
surto de obras por ali, quanto mais se os problemas pendentes são de
responsabilidade dos mesmos patrocinadores dos projetos no Xingu: a Eletronorte,
a Camargo Corrêa, as indústrias eletro-intensivas.
O capítulo “Índios e Barragens:
a complexidade étnica e territorial na Região do Médio
Xingu” foi assinado pelo antropólogo Antonio Carlos Magalhães,
ex-pesquisador do Museu Emilio Goeldi e consultor do Governo do Pará.
O geógrafo paraense, então completando seu doutorado na USP, assina
o capítulo “Dias de incertezas: O povo de Altamira diante do
engodo do projeto hidrelétrico Belo Monte”. No final do livro,
é formulada uma espécie de teoria geral dos problemas da hidreletricidade
com o capítulo: “Conhecimento crítico das mega-hidrelétricas:
para avaliar de outro modo alterações naturais, transformações
sociais e a destruição dos monumentos fluviais”, (Oswaldo
Sevá) e com o informe do dirigente da IRN, Patrick Mc Cully, sobre as
lutas dos atingidos em vários países contra a chamada “dam
industry”, ou, a “indústria barrageira”.
Na essência, no vale do Xingu prossegue uma guerra de desiguais: aventureiros
e empresas, livres para agir, acobertados em seus desmandos, muito bem representados
na máquina pública em todas esferas e instâncias de poder,...enquanto
o povo e os índios só contam praticamente com eles mesmos, uns
poucos abnegados que os ajudam, e partes da máquina pública, raras,
que conseguem cumprir sua função.
O que de fato temos pela frente, são projetos sociais, econômicos,
que competem ou até conflitam entre si; visões e propostas de
distintos grupos de interesse e de distintas classes sociais para o mesmo espaço
territorial. São demandas de utilizações distintas para
os mesmos bens coletivos – ou um grande rio não é um bem
coletivo? Sob a ditadura e diante do poderio dos cartéis internacionais,
não pudemos evitar que na Amazônia paraense fosse instalado um
reduto da indústria eletro-intensiva mundial. Que possamos então
limitar esse avanço e, no futuro, revertê-lo!
A. Oswaldo Sevá Filho é engenheiro mecânico de produção,
doutor em ciências humanas e professor do Departamento de Energia da Faculdade
de Engenharia Mecânica da Unicamp.
Outras informações: www.fem.unicamp.br/~seva;
www.socioambiental.org.
Notas:
CASTRO, E. V. de “Araweté é o povo do Ipixuna”
CEDI - Centro Ecumênico de Documentação e Informação
(ISA), S.P.,1992
(v publicação periódica “World Rivers Review”
(ISSN no. 0890 6211) e o site www.irn.org)
Este livro coletivo é o produto deliberado de um Painel de especialistas
e de entidades sobre os projetos hidrelétricos no rio Xingu, Pará,
formado desde o final de 2002 por iniciativa conjunta do I.R.N. - International
Rivers Network, San Francisco, CA e das entidades de Altamira, Pará,
agrupadas no MDTX – Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica
e do Xingu, e teve apoios específicos das entidades Instituto SocioAmbiental,
SP e BSB; FASE, RJ (Programa Brasil Sustentável e Democrático),
e Comissão Pró-Indio de São Paulo.
SANTOS e ANDRADE, orgs: “As hidrelétricas do Xingu e os povos
indígenas”, Comissão Pro Índio de S.P. 1988. Três
dentre os mais de vários autores daquele livro colaboram, dezesseis anos
depois, nesse segundo livro: Sônia Magalhães, Antonio Carlos Magalhães,
antropólogos trabalhando em Belém, PA e Oswaldo Sevá.
Foi publicado artigo no exterior, em um periódico especializado, do
qual há um excerto na íntegra nesse livro. Ref: FORLINE, Louis
e ASSIS, Eneida “Dams and social movements in Brazil: quiet victories
on the Xingu”in Practicing Anthropology, vol. 26 no. 3 Summer 2004 pp
21-25.
Metodologia: Na simulação
usou-se o modelo Hydrolab (Cicogna e Soares Fo., 2003, FEEC, Unicamp) que foi
alimentado pela base de dados do SIPOT - Sistema de Informações
do Potencial Hidrelétrico, da Eletrobras, com os valores numéricos
da vazão d’ água do rio Xingu, mensurados em Altamira -
ou extrapolados a partir dos dados do rio tocantins - desde o ano de 1931 até
o ano de 1996. Destacamos o subperíodo de 1949 a 1956, por ser considerado
o de melhor pluviosidade, do ponto de vista da geração hidrelétrica
nos rios brasileiros do hemisfério Sul. Não se trata portanto
de afirmar nada com relação ao quanto tais usinas poderiam, no
futuro, acionar, da sua potência instalada; e sim, trata-se de imaginar,
como elas teriam funcionado no passado, se tais usinas existissem nesses pontos
desses rios que apresentaram essas vazões.
|
![]()
![]()